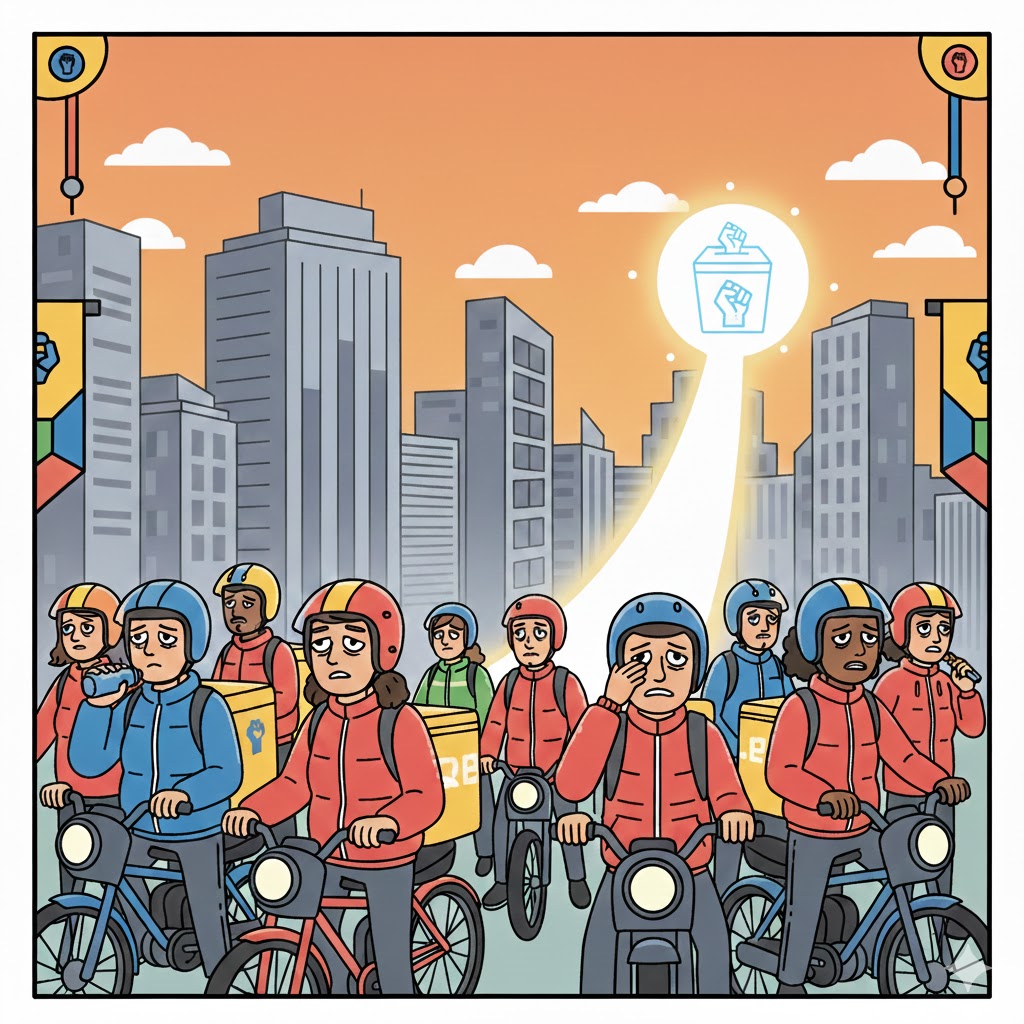O SoftBank é um dos maiores fundos de investimentos na área de tecnologia e parece ter um apetite insaciável por risco. Os investimentos superam os US$ 150 bilhões em mais de 500 empresas. Seu fundador, Masayoshi Son, sustenta uma imagem de visionário e é retratado como o arquiteto do “blitzscaling”, uma estratégia de injetar quantias colossais em startups para alcançarem liderança de mercado a qualquer custo.

Imagem gerada por IA generativa usando argumentos: Imperialismo e SoftBankNo entanto, essa história, embora cativante, está incompleta, segundo os pesquisadores Jack Linchuan Qiu, da Universidade Nanyang Technological, de Singapura, e Chris King-Chi Chan, da Universidade Royal Holloway, de Londres. Parte dos métodos do SoftBank seria inspirada nas estratégias econômicas desenvolvidas nos anos de 1930 no Japão, em contextos de crise, reconstrução nacional e expansão imperial. Em síntese, a metodologia de Son repetiria traços de um imperialismo e um neocolonialismo com características modernas da atual fase do capitalismo digital e plataformaizado.
As conclusões fazem parte do estudo publicado no artigo “SoftBank: empire-building, capital formation & power in Asian digital capitalism”, escrito pelos autores na revista New Political Economy. Qui e Chan realizaram uma pesquisa histórica, analisaram declarações públicas do CEO do Softbank e interpretaram os dados usando o conceito de imperialismo de Lênin, considerando as transformações das últimas décadas.
As diferenças no seu nascimento
O motor que catapultou a expansão global do SoftBank Vision Fund, fundo de investimento do banco que já existia desde da década de 1980, vem dos impressionantes US$ 98,6 bilhões captados fora dos grandes centros financeiros, por meio de fundos soberanos de estados autoritários no Oriente Médio.
Em 2017, ano do lançamento, uma parte dos recursos veio do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, que contribuiu com US$ 45 bilhões, e da Mubadala Investment Company, dos Emirados Árabes, que aportou mais US$ 15 bilhões.
A estratégia do SoftBank foi denominada “cluster de líderes absolutos”, cuja ideia era criar uma rede de empresas dominantes em diferentes setores que colaboram entre si, o que contrasta com a tradição no setor de investimentos de evitar apostar em concorrentes diretos.
Os clusters e a concorrência
Na prática, o SoftBank pretendia criar uma espécie de famílias ou clãs corporativos globais, onde os membros se apoiam mutuamente contra concorrentes, numa perspectiva contrária ao individualismo competitivo do Vale do Silício.
A ambição era criar cinco mil empresas, todas sob o guarda-chuva do SoftBank, que colaborassem entre si, fortalecendo o império como um todo. Essa ideia de criar um ecossistema de empresas interligadas não era totalmente nova, já que o modelo de conglomerado empresarial é profundamente enraizado na história do capitalismo japonês.
O que parece ser uma disrupção é, na realidade, uma versão moderna e globalizada do modelo de negócios japonês pós-Segunda Guerra conhecido como keiretsu. Esse modelo traduz-se em conglomerados de empresas interligadas (fabricantes, fornecedores, bancos, distribuidores) por meio de participações cruzadas e redes corporativas, projetados para reduzir a competição interna e fomentar a colaboração.
O “cluster de líderes absolutos” visa minimizar a concorrência de mercado, permitindo apenas um ator, escolhido a dedo, seja vencedor em cada mercado emergente da economia digital. Na fase do capitalismo de plataforma, essa nova forma de império digital emergiu na Ásia, diferindo da era de Lenin, que entendia o imperialismo como uma força contingente à intervenção estatal do país de origem dos imperialistas. No entanto, as relações do SoftBank com o Estado são complexas, o apoio não provém só do governo japonês, mas, em vez disso, se apoia em Estados do Oriente Médio.
A estratégia de Son teria uma diferença crucial: a desnacionalização do modelo. A prova mais contundente disso é que, embora o SoftBank seja uma empresa japonesa, no seu portfólio há apenas uma empresa do seu país. O objetivo de Son, explicam os pesquisadores, nunca foi construir campeões para o Japão, mas sim estabelecer um império para si mesmo.
Os autores do artigo aprofundam o estudo histórico do fenômeno keiretsu para ressaltar que suas bases teriam nascido na década de 1930, em Manchukuo, um Estado-fantoche estabelecido pelo Japão imperial no nordeste da China.
Essa linhagem histórica permite reinterpretar a ambição do SoftBank não como inovação, mas como a ressurreição de uma perigosa ideologia econômica, nascida do colonialismo e projetada para a dominação monopolista.
Os acertos, as críticas e a crise
Um dos maiores feitos do SoftBank foi construir um verdadeiro monopólio global no setor de transporte por aplicativo. Em seu auge, as empresas do portfólio do fundo incluíam Uber (lider no Ocidente), DiDi (líder na China e presente no Brasil como dona da 99) e Grab (relevante no sudeste Asiático). Juntas, chegaram a controlar 90% do mercado mundial de transporte por aplicativo. Isso ilustra o imenso poder de mercado que a estratégia de blitzscaling foi capaz de criar.
Mas o Softbank também atraiu críticas, principalmente após diversos revezes. Haveria muita imprudência na interpretação do cenário para os investimentos, como no caso da WeWork, uma startup de aluguéis de espaços de coworking que acumulou prejuízos bilionários.
A cultura de queimar dinheiro dependeria inteiramente de capital barato, algo que foi garantido pela década de taxas de juros próximas de zero, mas que se esgotou depois da pandemia. Um dos resultados imediatos foram os diversos ajustes e demissões em massa nas empresas com investimento do banco.
Por fim, os pesquisadores consideram que haveria uma dependência de pilares frágeis ou instáveis, como as fontes de financiamento sauditas ou a dependência de mercados com alta regulação e restrições para os serviços, como a China.
A história revela que o SoftBank é muito mais do que uma empresa de capital de risco. É a reedição moderna de um modelo histórico de construção de império, para além das fronteiras nacionais e sem o apoio direto de um Estado-nação específico.
Ao mesmo tempo, as estratégias que fizeram o SoftBank parecer revolucionário, como a sua ousadia de financiamento quase infinita, ajudaram a demonstrar sua fragilidade. Quando o cenário mundial mudou, as fontes começaram a secar.
A ascensão e crise do Softbank pode revelar que, mesmo na era da inteligência artificial, os ciclos fundamentais de boom e colapso persistem, e os riscos da ambição desmedida são tão reais hoje como eram há quase um século.
Capitalismo de vigilância no Sul Global
O estudo sobre o SoftBank se enquadra no eixo de pesquisa que OplanoB classifica como “capitalismo de vigilância no Sul Global”. Esse eixo foca na centralidade econômica e nas razões do sucesso desse fenômeno do Capitalismo de Vigilância no Sul Global.
Este caso é interessante por se tratar de um fundo de investimento que proporciona a ascensão financeira para uma grande parte das plataformas de serviços digitais que conhecemos. É parte da “razão de sucesso” que concretamente significa disponibilizar dinheiro para os novos negócios, com suas peculiaridades.
Para ler o artigo: https://doi.org/10.1080/13563467.2025.2462139
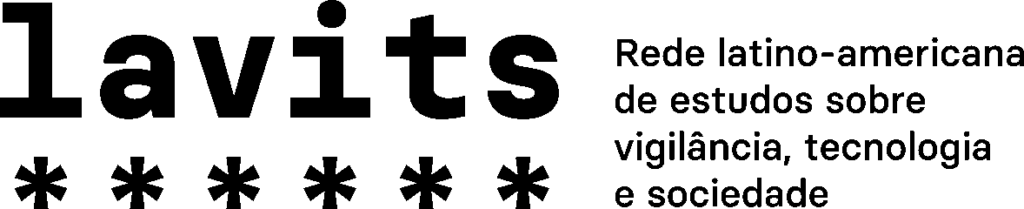
Esta nota faz parte do projeto “Inteligência Artificial e Capitalismo de Vigilância no Sul Global”, realizado pelo Labjor - Unicamp | Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo. Conta com o apoio da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade (LAVITS) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pelo Programa José Reis de Incentivo ao Jornalismo Científico (Mídia Ciência).