“Com uma pequena ajuda você pode alimentar uma criança”, diz a peça publicitária televisiva de uma ONG internacional, incentivando doações para reforçar sua ação de ajuda humanitária em outro continente. É uma estratégia chamada de “pornografia da pobreza”, criticada desde a década de 1970 pelo “apelo da criança faminta”, mas ainda utilizada eventualmente. Atualmente, as intervenções têm se convertido, em geral, em processos de inclusão e empoderamento dos beneficiários, dentro dos limites possíveis para cada situação.

Imagem gerada por inteligência artificial generativa utilizando palavras-chave: humanitarismo digital, big techs, sul globalEntretanto, esses desafios dependem do mapeamento das necessidades, quantificação das populações e identificação das prioridades. Não é uma tarefa fácil e, muitas vezes, mais difícil que a própria ação de ajudar. É nessa tarefa que empresas e startups de IA têm atuado, vendendo uma imagem de eficiência e resultados, que estão alterando, inclusive, os próprios pilares da ajuda humanitária.
Para tal propósito, esses novos atores utilizam uma série de dados coletados a distância, que vão desde dados geoespaciais até a análise de dados de redes sociais, para construir uma representação do local, fazendo emergir diagnósticos, mas que podem ser facilmente questionáveis em relação aos seus vieses e métodos.
Esse problema foi analisado no artigo “Datafied localization: Reproducing unequal power hierarchies in humanitarianism”, lançado na revista Big Data e Society no número especial “Datafied Development” que examina o desenvolvimento baseado em dados e seus problemas para a promoção de justiça social. O trabalho foi escrito por Maria-Louise Clausen, Adam Moe Fejerskov e Sarah Seddig, todos do Instituto Dinamarquês de Estudos Internacionais de Copenhague, na Dinamarca.
Os autores analisaram a atuação de duas empresas específicas: a Premise, estadunidense, e a startup Quilt.AI, com sede em Singapura. Ambas se anunciam como capazes de ajudar nas “tomadas de decisão” por meio de análises preditivas por IA, alcançadas por diagnósticos de cenários interpretados por antropólogos e engenheiros de dados. A missão é “mesclar aprendizagem de máquina com a inteligência cultural humana”. As palavras são realmente bem selecionadas e parecem destacar novas tecnologias em prol do bem-estar humano.
O foco das empresas não é apenas ajuda humanitária. Sua pretensão é compreender públicos, auxiliar marcas e estratégias de negócio, funcionando como plataformas. Mas o que interessa é a maneira como suas metodologias são utilizadas. Elas oferecem serviços de big data para construir geometrias de necessidades e dinâmicas humanitárias a distância, sem a necessidade de contato com lideranças locais ou as dispendiosas e perigosas – nas palavras deles – coletas de dados no local. Os autores chamam esse expediente de “localização baseada em dados”.
Entre seus clientes estão a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Fundação Bill e Melinda Gates, o Banco Mundial, o Fundo Internacional de Emergência para a Infância (UNICEF) e o Fundo para Atividades Populacionais (UNFPA). Ou seja, grandes organizações de alcance global que atuam em diferentes países.
A convergência de avanços técnicos, a IA e a complexidade algorítmica se integra a outra agenda concomitante, que está implicada em um novo paradigma do humanitarismo. Por um lado, há uma necessidade da chamada “localização”, que sugere que a ajuda humanitária se torna mais eficiente e gera melhores resultados quando conta com pessoas mais próximas aos eventos ou conflitos, pois elas compreendem melhor as realidades e as necessidades. Junto a isso, chega a digitalização, o uso de big data, algoritmos e plataformas para supostamente “aprimorar” o trabalho. O chamado “humanitarismo digital” encapsularia novas metodologias de coleta de dados a distância, com capacidades preditivas de “representar” (ou construir) necessidades. Mas, mais do que isso, coloca em xeque a própria agenda de localização, já que essas coletas e análises são feitas remotamente, por corporações estrangeiras, na sua grande maioria oriundas do Norte Global, no Ocidente, que fornecem dados e dashboards para os financiadores tomarem decisões em seus escritórios assépticos, nas suas próprias sedes.
A introdução do humanitarismo digital e sua produção de dados se desdobra em camadas que podem perpetuar antigos problemas e inaugurar outros. Uma delas é a reprodução de hierarquias e a manutenção de práticas neocoloniais, na medida que corporações externas aos territórios são quem analisam e produzem os diagnósticos, sem a participação ou empoderamento dos envolvidos. Outra camada é o caráter de neutralidade desses resultados, como se os dados tivessem em si uma verdade inequívoca, sem questionamento sobre métodos utilizados para produzí-los.
As próprias empresas reconhecem alguns “elefantes na sala”: as IAs são treinadas principalmente em inglês e precisam trabalhar com dados em diferentes idiomas.
Além disso, há problemas metodológicos sérios, que, numa nova roupagem digital, são minorizados. Os autores citam pesquisas da Premise, realizadas na Somalilândia e no México, que utilizaram “amostragem de conveniência”, que, na prática, é uma pesquisa com quem “está disponível”, sem critério de representatividade, sem validade interna ou externa. Para piorar, os recrutados para a pesquisa eram remunerados de maneira granular, ao estilo Amazon Mechanical Turk. Além da validade da amostra e dos complicadores em relação às diferentes habilidades digitais para participar de um levantamento desse tipo, pode-se questionar se essa é uma boa prática de inclusão do público-alvo.
Considerando que esse tipo de consultoria tem sido cada vez mais adotado por grandes agências internacionais e grandes organizações humanitárias, o trabalho levanta uma questão relevante: a título de uma suposta eficiência ou capacidade de acelerar diagnósticos, não se estaria fazendo exatamente o contrário do que os consensos sobre a ajuda humanitária já chegaram nas últimas décadas? Ou seja, a utilização acrítica das metodologias digitais não estaria prejudicando a contextualização e o empoderamento local?
“O big data não elimina questões de contextualização, representação e hierarquias de poder(…) A centralização não apenas da tomada de decisões, mas também dos dados que as informam, nos lembra que não é somente uma forma de desterritorialização, mas sim uma ocidentalização.”
O caso dessas empresas também ilustra como o Capitalismo de Vigilância no Sul Global, um dos eixos da pesquisa do OPlanoB, pode ser executado por empresas parceiras da filantropia internacional, que se estruturam como plataformas digitais voltadas a serviços específicos para extração de dados das populações-alvo que necessitam de ajuda humanitária.
Para ler o artigo: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/20539517241304693
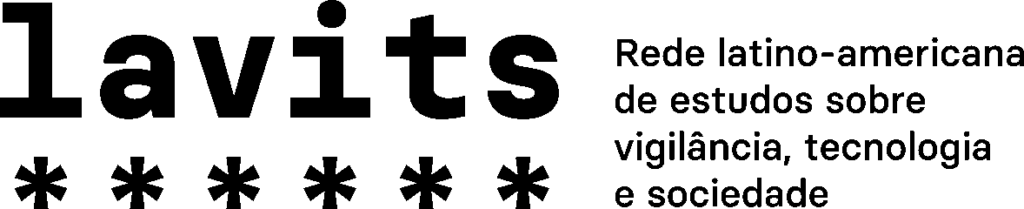
Esta nota faz parte do projeto “Inteligência Artificial e Capitalismo de Vigilância no Sul Global”, realizado pelo Labjor - Unicamp | Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo. Conta com o apoio da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade (LAVITS) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pelo Programa José Reis de Incentivo ao Jornalismo Científico (Mídia Ciência).
