Imagine a soberania, algo tão importante politicamente para países e comunidades, transformar-se em um produto vendido na prateleira. Nos últimos anos, as maiores big techs passaram a oferecer “soberania como serviço”, ou seja, incorporada ao seu portfólio, sobretudo para governos e para o setor público. Microsoft, Amazon e Google entraram nessa disputa motivadas principalmente pelas novas regras e legislações europeias, mas já revendem esses serviços em todos os continentes.

Imagem gerada por inteligência artificial generativa utilizando palavras-chave: soberania, sul global, big techs, amazon, microsoft, googleEmbora o termo “soberania digital” seja polissêmico, ainda em construção, sua origem tem como princípio político a autodeterminação coletiva e não sua transformação numa mercadoria. A proposta das big techs é uma jogada comercial, projetada para esvaziar o debate e revela que estão estrategicamente cooptando e redefinindo o conceito para preservar seus domínios.
É assim que avaliam os pesquisadores Rafael Grohmann, da Universidade de Toronto, no Canadá, e Alexandre Costa Barbosa, da Universidade das Artes de Berlim, na Alemanha, no artigo “Sovereignty-as-a-service: How big tech companies co-opt and redefines digital sovereignty”, publicado no periódico Media, Culture & Society.
Eles analisaram os materiais oficiais publicados nos sites de cada empresa, incluindo anúncios, posts e descrições de produtos das três big techs e concluíram que a iniciativa das poderosas empresas de tecnologia busca “atualizar a ideologia do Vale do Silício (…) apropriando-se e esvaziando os significados de conceitos-chave emergentes da sociedade civil”. Seria uma versão 2.0 da “ideologia californiana”, termo cunhado nos anos 1990 por Richard Barbrook e Andy Cameron.
A Amazon foi a primeira a lançar seu produto como um “compromisso de soberania digital” com o programa “Digital Sovereignty Pledge”, na qual se posiciona como uma facilitadora para que os clientes atendam aos requisitos relacionados à soberania. A soberania aqui é tratada como um processo de gestão corporativa.
Em seguida veio a Microsoft com o “Microsoft Cloud for Sovereignty”, associado ao seu produto de nuvem pública Azure, que sugere que os Estados nacionais podem contar com ela para se tornarem mais soberanos. A empresa faz questão de enfatizar que os dados estarão sendo regidos pelas legislações locais dos países de origem, mesmo estando na infraestrutura da multinacional.
Por fim, a terceira a lançar iniciativas nesse sentido foi o Google/Alphabet, com o chamado “Digital Sovereignty Explorer”. O seu produto é, basicamente, a possibilidade de explorar relatórios de compatibilidade recomendando os serviços do Google Cloud mais adequados para as instituições. A soberania digital aqui se transforma em uma consultoria para melhor escolher os produtos e serviços da empresa.
É possível perceber, pela análise dos autores, uma inversão lógica. Ao oferecer soberania como serviço ou ferramenta técnica, há uma deturpação do sentido de soberania exercida por uma comunidade em seus territórios.
Ao vender “nuvens soberanas”, as empresas garantem que os Estados permaneçam dependentes de suas infraestruturas globais e permitem que os governos mantenham um discurso público de soberania digital. O Brasil é citado como um exemplo, pois promove um forte discurso de soberania ao mesmo tempo em que adquire serviços da “nuvem soberana” da Amazon.
Os autores concluem com um apelo para que diferentes atores da sociedade se envolvam em um diálogo sobre como disputar politicamente o conceito de soberania digital e destacam o potencial de se fazer um debate “de baixo para cima”, citando o caso do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) no Brasil.
A grande questão não é apenas quem controla a nuvem, mas quem controla o próprio significado de soberania digital. Há um adágio que diz que nuvem nada mais é do que vários computadores ligados em algum lugar. Tecnicamente é um pouco mais complexo, com diversas camadas lógicas envolvidas. Mas o essencial do ditado é pensar em quem está controlando esses computadores. A soberania digital passa por camadas técnicas, de infraestrutura e políticas, incluindo responsabilidade e autonomia tecnológica das comunidades e/ou países.
Os estudos sobre soberania digital se encaixam no eixo de pesquisa que o OplanoB classifica como “capitalismo de vigilância no Sul Global”. Esse eixo foca na análise da centralidade econômica e nas particularidades locais da vigilância no Sul Global. A disputa política por soberania digital remete ao embate do imperialismo das big techs, revestido por um verniz tecnológico, sobre a apropriação da riqueza dos países e das comunidades para dentro dos seus cercados.
Para ler o artigo: https://doi.org/10.1177/01634437251395003
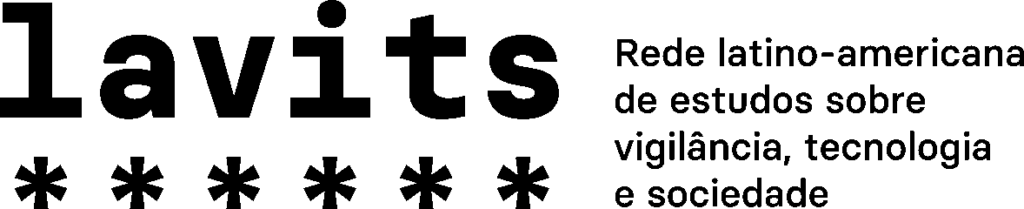
Esta nota faz parte do projeto “Inteligência Artificial e Capitalismo de Vigilância no Sul Global”, realizado pelo Labjor - Unicamp | Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo. Conta com o apoio da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade (LAVITS) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pelo Programa José Reis de Incentivo ao Jornalismo Científico (Mídia Ciência).
