Atualmente, os algoritmos estão em toda parte: quando definimos um alarme para acordar, quando rolamos a timeline da rede social ou quando contratamos um seguro, sempre há algoritmos operando.
Eles são um elemento fundamental para a computação, semelhantes a uma receita de bolo no mundo digital, contendo detalhes e os passos para resolver um problema ou executar uma tarefa.
Mas esses artefatos também podem modular nossos comportamentos. Em tempos de IA, eles exercem cada vez mais poder sobre a sociedade.
Se, por um lado, os algoritmos parecem inevitáveis, por outro, haveria formas de resistir? Ou seja, há como ser menos influenciado por eles sem significar travar uma guerra contra a Skynet, a IA retratada no filme “O Exterminador do Futuro”.

Imagem gerada por inteligência artificial generativa utilizando palavras-chave: skynet, resistênciaPesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da Universidade Federal de Goiás (UFG) consideram que a resistência ao poder dos algoritmos pode adquirir uma característica política em nosso tempo.
Os professores Ricardo Fabrino Mendonça, Fernando Filgueiras e Virgílio Almeida publicaram recentemente o artigo “Algoritmos, desidentificação e infrapolítica da resistência” na Revista Revista Brasileira de Ciência Política, abordando formas dessa resistência ou de ressignificação.
Uma das formas, chamada de infrapolítica, seria a ação menos visível, ou não necessariamente de enfrentamento. Esse expediente seria utilizado quando a resistência não pode ser pública, ou pode ser perigosa, ou oferecer riscos.
As resistências também podem se basear em “práticas cotidianas” que desafiam o que é esperado pela norma, na qual as pessoas jogam conscientemente com os algoritmos, tentando subvertê-los. Fazem isso racionalmente, encontrando brechas e maneiras de obter resultados não esperados a partir de interações não convencionais.
Por fim, outra camada abordada pelos autores se trata da “desidentificação”. Este tipo opera nas margens da reconfiguração de como a sociedade se organiza, transformando as identidades. No contexto dos algoritmos, uma das formas é dificultar ou atrapalhar as formas de perfilamento — a classificação das pessoas a partir de suas características no utilização das plataformas.
As ações de “desidentificação” são bastante utilizadas e já fazem parte do repertório político da nossa sociedade. Uma delas é a anonimização, que pode ocorrer por meio de sistemas de criptografia — que embaralham a informação ao circular nas redes e só podem ser decodificados pelo receptor da mensagem — ou por métodos mais simples, como a atitude de desabilitar cookies no navegador ou navegar no modo anônimo. Outra alternativa é usar endereços da chamada Dark Web, uma rede que permite a navegação por sites não públicos acessíveis apenas por programas específicos na rede Onion.
Maneiras mais explícitas de “desidenficação” de sistemas biométricos provocam o “engano” do algoritmo. Numa sociedade rodeada de sensores, utilizar máscaras para impedir a identificação nas câmeras espalhadas pelas ruas ou aglomerar celulares em um local, como forma de desorganizar o tráfego urbano pelo sinal do GPS, são formas de ativismo político atuais.
Há formas sutis e cotidianas de provocar o engano: muitos usuários preferem usar um emoji de melancia no lugar da bandeira da Palestina para fugir de possível identificação e moderação pelas plataformas. A melancia remete às cores da bandeira do país e também à produção da fruta na Faixa de Gaza (antes da guerra de 2023). Outra forma é a circulação de mensagens em imagens. É uma técnica bastante utilizada por usuários do WeChat na China para evitar moderação ou censura no aplicativo.
A questão central é que a desidentificação funciona como um contrapoder, justamente porque os algoritmos trabalham na lógica de identificar e categorizar as pessoas, a partir de finalidades programadas previamente. Em meio a esse poder quase totalizante dos algoritmos, é importante pensar que as formas de resistência podem se tornar cada vez mais frequentes, assumindo um papel político como forma de protesto.
“Tais formas de resistência podem não ser revolucionárias ou abalar estruturas. Elas podem não ser muito visíveis nem organizadas. Mas apontam para possibilidades de confrontar criativamente as estruturas que delimitam as sociedades contemporâneas, ou seja, uma ordem política dos algoritmos.“
Há, obviamente, uma grande desigualdade de poder entre big techs, suas plataformas, seus algoritmos e as possibilidades de resistência das pessoas. Isso é reconhecido e enfatizado pelos autores. Há também inúmeras outras formas de ação e organização política para enfrentar e contestar esse poder, inclusive as maneiras mais institucionais e de mercado. Em muitos momentos, o boicote é reivindicado como forma de se fazer ouvir por quem está no poder. Da mesma forma, batalhar pela construção de uma regulação do setor, visando implementar regras mais justas e equilibradas, é um tipo de ação política cujo objetivo é construir horizonte mais justo.
A grande questão levantada pelo trabalho é reconhecer, dentro do novo contexto de uma sociedade cada vez mais comandada por algoritmos, que diversas formas de resistência, inclusive as mais sutis e ocultas, fazem parte do cenário do enfrentamento e devem ser consideradas no jogo de embate entre os mais vulneráveis e as grandes corporações. Como os autores mesmo afirmam: “reiteramos como essas resistências aqui elencadas são lampejos que não se configuram como a regra e que podem ser apropriados de formas diversas em relações de poder, nem sempre produzindo deslocamentos efetivos”.
Para ler o artigo: https://doi.org/10.1590/0103-3352.2025.44.280252
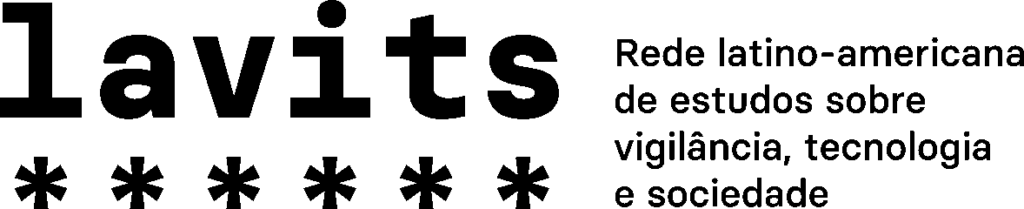
Esta nota faz parte do projeto “Inteligência Artificial e Capitalismo de Vigilância no Sul Global”, realizado pelo Labjor - Unicamp | Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo. Conta com o apoio da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade (LAVITS) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pelo Programa José Reis de Incentivo ao Jornalismo Científico (Mídia Ciência).
