A crítica sobre o poder das big techs e seus efeitos econômicos, políticos e sociais tem se tornado cada vez mais presente nas pesquisas acadêmicas. O termo “colonialismo digital” é um conceito chave para compreender as transformações atuais, principalmente no Sul Global.
Toussaint Nothias, da Universidade de Nova York, propõe uma análise histórica do conceito e de suas variantes como tecnocolonialismo, colonialismo tecnológico, colonialismo de dados, entre outros, presentes desde as disciplinas de humanidades até a ciência da computação. No recente artigo “An intellectual history of digital colonialism”, publicado no Jornal of Communication, ele revisa os precedentes e o papel do ativismo na popularização destes termos.

Imagem gerada por inteligência artificial generativa utilizando palavras-chave: colonialismo digitalO autor destaca seis características que orbitam as concepções do colonialismo de novo tipo na era digital. Nas suas palavras:
A crítica do colonialismo digital tem como alvo o sistema social onde alguns atores-chave, por meio de tecnologias digitais, operam em escala global (concentração desigual de poder) e extraem lucros, dados, trabalho e recursos naturais (extração); garantem a dependência de seus produtos enquanto reproduzem, aceleram ou até mesmo criam novas formas de violência e impõem normas e valores culturais distintos (imperialismo cultural) em nome do progresso e inclusão digital como ajuda humanitária (benevolência).
São aspectos abrangentes que, ao mesmo tempo, se complementam na capacidade explicativa do desenvolvimento do capitalismo informacional plataformizado das últimas décadas, formando uma tipologia do colonialismo digital. Particularmente o Nothias traz referências de autores que se tornaram reconhecidos por desenvolver conceitos específicos. Ou seja, o trabalho apresenta um mapa, sem pretensão de ser exaustivo, do desenvolvimento teórico sobre o assunto.
Mas outro ponto importante abordado no trabalho é a historicidade desse tipo de crítica. Ela não é exatamente recente, ainda que tenha se tornado mais evidente nos últimos anos. Nothias resgata os seus precedentes e precursores.
Em 1976, o Movimento dos Países Não Alinhados lançou uma proposta para uma “Nova Ordem Internacional da Informação”. Naquele momento, se considerou necessário fazer uma ofensiva de decolonização na “história das ideias”.
Na década de 1980, desenvolveu-se o conceito de um “colonialismo eletrônico”, focado na dependência da infraestrutura dos meios de comunicação nos países periféricos.
Ao mesmo tempo, houve o surgimento da corrente de pensamento crítica ao desenvolvimentismo, principalmente na antropologia, que via na tecnologia um instrumento para a hegemonia dos valores ocidentais. A crítica pós-desenvolvimentista argumenta que a teoria do desenvolvimento era uma ideologia política que trabalhava com a ideia de modernização a partir de pressupostos elaborados pelos países dominantes.
Porém, nos anos 1990, houve a ascensão da perspectiva positiva e salvacionista das tecnologias digitais, principalmente com a expansão do uso da Internet e com as supostas potencialidades de uma comunicação mais horizontal e democratizante. Esse pensamento perdurou até a evidente monopolização da rede pelas big techs.
Além dos estudos acadêmicos, o pesquisador Toussaint Nothias destaca a importância do ativismo para popularizar o termo colonialismo digital em casos como os protestos dos indianos frente ao Internet.org, projeto do Facebook que pretendia para levar acesso “gratuito” – mas limitado a poucas plataformas – e que ganhou atenção global. Quando o projeto foi renomeado para “Free Basics”, na África, recebeu uma nova onda de críticas contundentes por ativistas e entidades da sociedade civil.
Poderia ser acrescentado o movimento software livre que teve sua efervescência na virada do século na América Latina. Em 2002, no Peru, houve uma proposta de lei para facilitar a adoção de software livre na administração pública. O caso se tornou notório, pois a Microsoft encaminhou uma carta para o seu proponente, o deputado Edgar Villanueva Nuñez. Ele respondeu publicamente os argumentos apresentados pela multinacional de forma eloquente. Naquele momento já existia a preocupação sobre o processamento e manipulação de dados pessoais e a necessidade de se construir autonomia frente às soluções tecnológicas estrangeiras. Em 2003 o Brasil também iniciou um processo de adoção de softwares livres no Governo Federal, que se tornou reconhecido mundialmente, principalmente depois que a mesma Microsoft criticou publicamente as iniciativas.
O ativismo por direitos e soberania digital emergiu em diversos países, por meio de uma teia de colaboração entre movimentos sociais e organizações do terceiro setor. Muitos desses militantes também circulam na academia e seus trabalhos também inspiram e são referência para outros pesquisadores. Tudo isso coloca mais combustível no desenvolvimento da crítica acadêmica. Para além dos termos inicialmente tratados por Nothias, há uma nova seara de conceitos sendo cotidianamente propostos como “criptocolonialidade”, “colonialidade de plataforama” ou “IA Decolonial”, apenas para citar alguns exemplos.
Trabalhos de síntese tem uma grande importância para situar obras, autores, fatos e trilhar caminhos de como conceitos potentes como o colonialismo digital nasceram e se desenvolveram.
A importância do conceito está na sua capacidade de diagnosticar os conflitos atuais que transpassam tecnologia, poder e cultura e traduz a síntese popular que “se existe o nome, existe o bicho”.
Para ler o artigo: https://doi.org/10.1093/joc/jqaf003
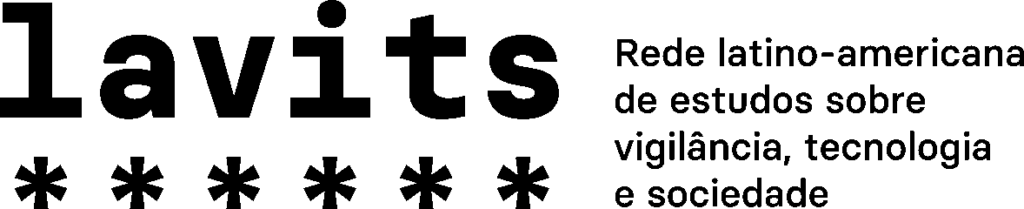
Esta nota faz parte do projeto “Inteligência Artificial e Capitalismo de Vigilância no Sul Global”, realizado pelo Labjor - Unicamp | Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo. Conta com o apoio da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade (LAVITS) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pelo Programa José Reis de Incentivo ao Jornalismo Científico (Mídia Ciência).
