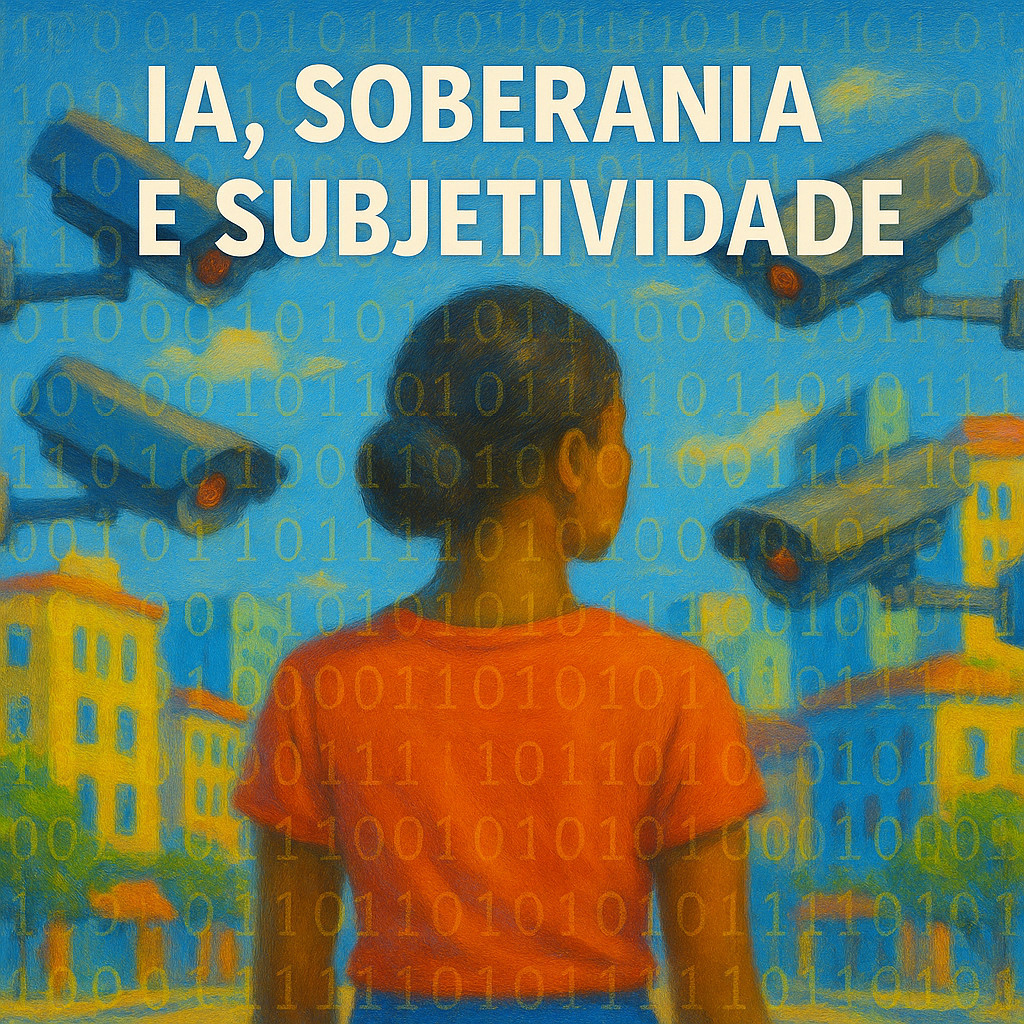Os chamados “trabalhadores do conhecimento”, profissionais cujas atividades se baseiam em criar, compartilhar e gerir conhecimento especializado, ligados principalmente às áreas de tecnologia da informação (TICs) ou da indústria criativa, representam um volume considerável da massa laboral chinesa. O país é considerado o maior em crescimento no Sul Global e consolidou uma acelerada industrialização de ponta nas últimas décadas.

Imagem gerada por inteligência artificial generativa utilizando palavras-chave: trabalhadores, digital, cidadeEntretanto, o chamado “bem-estar laboral” se mostra um desafio, ainda que diversas medidas tenham sido implementadas nos últimos anos, como a jornada de trabalho de oito horas diárias. Mesmo assim, as dificuldades de fiscalização, a competitividade acirrada e a mudança de cultura corporativa geram insatisfações. Esses trabalhadores, mesmo tendo um elevado status (com melhor formação e com maiores salários), estão sujeitos à mesma lógica capitalista de extração de valor por meio do controle do tempo e do comportamento no trabalho. Aliado ao avanço das TICs, a vigilância se sofisticou em relação ao chão de fábrica. Agora há registros de presença, controle de produtividade via aplicativos, históricos de edição em documentos compartilhados e sistemas de monitoramento baseados em algoritmos, mesmo em trabalhos remotos. Este panorama se intensificou ainda mais no contexto da pandemia.
Nesse contexto, as professoras Weiming Ye, da Universidade de Pequim e Luming Zhao, da Universidade de Fundan, realizaram uma pesquisa qualitativa em profundidade questionando como os trabalhadores do conhecimento chineses percebem o trabalho, como é que a vigilância está interligada com esse significado e suas respectivas formas de resistências. Os resultados foram publicados no artigo “Knowledge Workers of the Digital World, Unite! Knowledge Workers’ Workplace Surveillance and Hidden Transcripts in China”, na revista acadêmica International Journal of Communication.
As autoras utilizam um conceito chamado “transcrições ocultas” para compreender as interações em que os trabalhadores se envolvem fora da vigilância direta. O termo designa uma metodologia que é utilizada para capturar discursos e práticas que podem confirmar, contradizer ou ressignificar o que é dito em público.
Uma parte da pesquisa foi realizada através de entrevistas semiestruturadas em profundidade com 13 trabalhadores entre 2022 e 2023, com idades entre 25 a 43 anos, todos trabalhadores em áreas do conhecimento. Outra parte do estudo foi feita através da análise de manifestações na rede social Weibo, um serviço de microblogging, de mensagens curtas. Alguns perfis foram selecionados e o foco de análise se deu principalmente na conta “Tui Na Bear” (que significa algo como “massagear o urso”, numa expressão cheia de trocadilhos, em chinês), com milhares de seguidores. Em 2022 foram mais de 300 postagens relacionadas ao tema de trabalho com mais de 30 mil respostas.
O crescente uso de redes sociais proporciona um ambiente onde é possível perceber como esse descontentamento é encarado, principalmente entre as gerações mais novas. Nos últimos anos, surgiram perfis críticos nas plataformas chinesas que atraem muito engajamento. Surgiram gírias como “996.ICU”, que se refere a jornada de trabalho de 12h em 6 dias por semana, ou “Fubao”, derivado de uma declaração do fundador da Alibaba, que sugeriu que os jovens deveriam encarar a cultura de longas jornadas como uma “enorme bênção”.
Apesar dos filtros e das restrições de termos adotados nas plataformas chinesas, as autoras consideram que a rede social proporciona um “backstage” para os trabalhadores “reproduzirem significados subversivos”, manifestando fofocas e críticas a cultura organizacional da empresas, ou seja, um lugar onde as transcrições ocultas estão mais manifestas, ainda que codificadas. Foram identificados diversos temas nessa amostra, que variam desde saúde, emoções e até questões relacionadas a direito previdenciário.
Sobre as percepções relativas ao significado do trabalho e relação com a vigilância, o estudo usou uma tipologia que distingue o trabalho como emprego, carreira ou vocação, na forma como o trabalho é visto pelos profissionais. Os sistemas de vigilância em geral combinam esforços humanos e algoritmos. Recursos originalmente destinados a aumentar a eficiência da comunicação tornaram-se mecanismos de vigilância através da utilização por colegas e líderes. Aquela sinalização que a mensagem foi visualizada ou que um arquivo foi aberto e editado são formas sutis de manejar a vigilância sobre a produção e a dedicação ao trabalho, conforme os relatos.
Da mesma maneira que os algoritmos vigiam, também podem ameaçar: “sinto uma sensação de crise em relação ao meu futuro, talvez um dia a inteligência artificial se desenvolva e me substitua”, conforme relatou um dos trabalhadores.
Sobre as horas extras, as pesquisadoras perceberam que há relatos de que há um “torneio até ao último sobrevivente”, onde os trabalhadores sentem-se obrigados a trabalhar por horas sob vigilância de aplicativos, por exemplo, mesmo na ausência dos seus líderes.
A observação das mensagens nas redes sociais proporcionou fértil um material sobre carga emocional envolvida, predominantemente negativas. As estratégias para enfrentar a vigilância podem ser de categorias do tipo de “fingir trabalhar”, com auxílio ou não de meios técnicos – como simular tarefas aleatórias no computador – ou fingir ignorância ou incompetência a fim de não se sobrecarregar de trabalho. São meios sutis de resistência frente ao monitoramento constante e que funcionam como válvulas de escape.
Um dos principais achados da pesquisa é que para quem considera o trabalho uma vocação, o controle cultural através da competitividade ou o cálculo racional entre custos e ganhos, está totalmente internalizado. Para quem considera o trabalho uma forma de estabelecer uma carreira, há um claro temor de ameaças, que podem ser a facilidade de ser substituído por outra pessoa ou por uma IA. Nesse sentido, as estratégias de vigilância perpetradas por algoritmos ou por processos técnicos acabam reforçando esses receios. Por fim, para os que interpretam o trabalho como um emprego, as estratégias de resistência costumam ser mais utilizadas.
Outro percepção do estudo é que essas práticas de resistência, apesar de sua criatividade, raramente se traduzem em uma ação coletiva. A resistência seria passiva e individualizada, revelando que a posição desses trabalhadores, na sua grande maioria de classe média, prefere não estabelecer um confronto político direto.
Ao mesmo tempo, isso revela o que as autoras consideraram uma “contradição estrutural” enfrentada por esses trabalhadores: ao mesmo tempo que são os agentes de um certo progresso digital, são o público que mais convive com diferentes estratégias de vigilância do seu trabalho cotidiano.
Para ler o artigo: https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/21369/4668
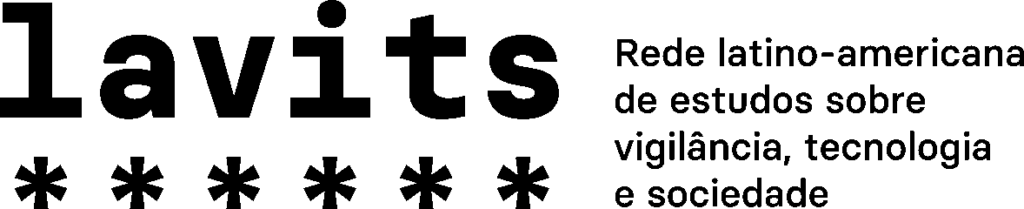
Esta nota faz parte do projeto “Inteligência Artificial e Capitalismo de Vigilância no Sul Global”, financiado pela Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade e realizado pelo Labjor - Unicamp | Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo